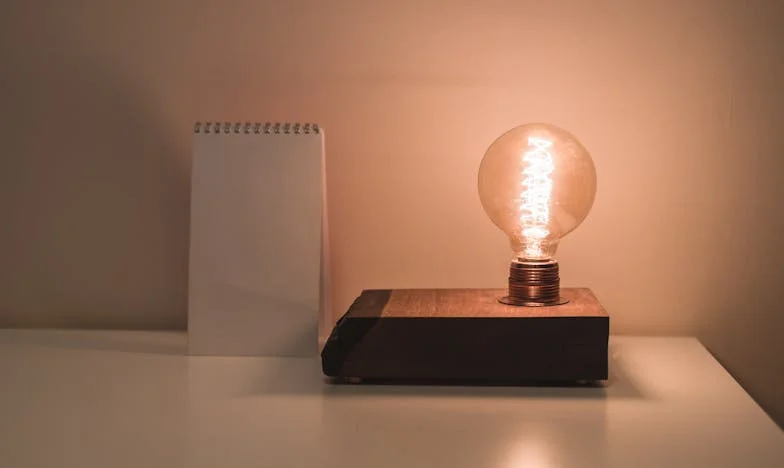Trinta Anos de Silêncio: Quando Deixar de Ser Esposa e Mãe é o Primeiro Passo para Ser Eu Mesma
— Vais mesmo embora, António? — perguntei, com a voz presa na garganta, enquanto ele fechava a porta do carro com um estrondo seco. O último cartaz de livros, a última caixa de ferramentas, tudo já estava no porta-bagagens. Ele não olhou para trás. Limitou-se a acenar com a cabeça, como quem diz adeus ao vizinho do lado, não à mulher com quem partilhou trinta anos de vida.
Fiquei ali, no limiar da porta da garagem, sentindo o frio da manhã atravessar-me os ossos. Sempre imaginei que, se este dia chegasse, eu me desmancharia em lágrimas, ou gritaria, ou imploraria para ele ficar. Mas não. Senti apenas um vazio imenso, como se alguém tivesse finalmente fechado uma porta atrás de mim — uma porta que temi atravessar durante três décadas.
Tenho 58 anos. Durante trinta fui “a esposa do António”, “a mãe da Inês e do Miguel”. A minha identidade resumia-se a esses papéis. Acordava cedo para preparar pequenos-almoços, corria para o supermercado antes que as promoções acabassem, fazia malabarismos com as contas da casa e as reuniões de pais na escola. O António era engenheiro civil, sempre ocupado com obras e prazos. Eu era professora primária — ou melhor, fui, até decidir ficar em casa quando a Inês nasceu.
A nossa vida era igual à de tantas outras famílias portuguesas: férias no Algarve em agosto, almoços de domingo em casa da minha mãe em Setúbal, discussões sobre as notas dos miúdos e sobre quem ia buscar o carro à oficina. Mas, por trás dessa rotina confortável, havia silêncios que se foram tornando cada vez mais pesados.
Lembro-me de uma noite em particular, há uns cinco anos. Estávamos sentados no sofá a ver o telejornal. O António comentou qualquer coisa sobre a política — já nem me recordo o quê — e eu respondi automaticamente. Ele olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Nesse momento percebi: já não tínhamos nada para dizer um ao outro. O amor tinha-se transformado em hábito.
Quando os miúdos saíram de casa — primeiro a Inês para estudar Direito em Coimbra, depois o Miguel para trabalhar em Lisboa — senti-me ainda mais invisível. Passei a falar sozinha pela casa, a arrumar gavetas que já estavam arrumadas, a inventar tarefas para preencher os dias. O António chegava tarde e cansado. Jantávamos em silêncio. Às vezes perguntava-lhe se queria ver um filme comigo; ele respondia que estava cansado ou que tinha trabalho para acabar.
Foi numa dessas noites que encontrei uma mensagem no telemóvel dele. “Obrigada pelo jantar de ontem. Senti-me tão bem contigo.” O nome era Ana Paula — colega dele do escritório. Não fiz escândalo. Não gritei nem chorei. Apenas senti uma tristeza funda, como se estivesse a assistir à minha própria vida através de um vidro.
Confrontei-o dias depois. Ele não negou nada. Disse apenas: — Já não somos felizes há muito tempo, Maria José. Não achas?
Não respondi. Porque era verdade.
O divórcio foi assinado sem grandes discussões. Os miúdos ficaram chocados, claro — mas já eram adultos e tinham as suas próprias vidas. A minha mãe chorou durante dias e repetiu que “no tempo dela” as mulheres aguentavam tudo pelo bem da família. Eu limitei-me a sorrir e a dizer que ia ficar tudo bem.
Mas não ficou.
Os primeiros meses sozinha foram um tormento. Acordava cedo por hábito e ficava horas sentada à mesa da cozinha, olhando para o vazio. O silêncio da casa era ensurdecedor. Os vizinhos começaram a olhar-me com pena — ou seria imaginação minha? Sentia-me velha, descartada, inútil.
A Inês ligava-me todos os domingos: — Mãe, tens de sair de casa! Vai ao cinema, inscreve-te num curso! — Mas eu não tinha vontade de nada.
Uma tarde chuvosa de novembro, decidi ir ao café da esquina só para ver gente. Sentei-me junto à janela com um galão e um pastel de nata. Ouvi duas senhoras da minha idade conversarem animadamente sobre uma aula de pintura na junta de freguesia.
— Desculpem interromper… essa aula é aberta a toda a gente? — perguntei timidamente.
Elas sorriram e convidaram-me logo a ir com elas na semana seguinte.
Foi assim que comecei a sair do casulo. A primeira aula foi um desastre: as minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar no pincel. Mas ri-me como já não fazia há anos quando vi o meu “quadro” — uma amálgama de cores sem sentido.
Com o tempo, fui ganhando confiança. Fiz amigas novas: a Teresa, divorciada há ainda menos tempo do que eu; a Dona Rosa, viúva há vinte anos mas cheia de energia; a Carla, mãe solteira sempre pronta para uma gargalhada.
Comecei também a caminhar todos os dias no parque perto de casa. No início era só para passar o tempo; depois tornou-se um ritual sagrado. Sentia o cheiro das árvores molhadas pela manhã, ouvia os pássaros e deixava os pensamentos correrem livres.
Certo dia cruzei-me com o Miguel no supermercado.
— Mãe! Estás diferente… até pareces mais nova! — disse ele, abraçando-me com força.
Sorri-lhe com sinceridade pela primeira vez em muito tempo.
Claro que nem tudo foi fácil. Houve noites em que chorei até adormecer, agarrada à almofada como se fosse um salva-vidas. Houve dias em que me senti ridícula por tentar aprender coisas novas aos 58 anos — como quando me inscrevi num workshop de informática e não consegui sequer ligar o computador à primeira tentativa.
A relação com a minha mãe também mudou. Ela nunca aceitou bem o divórcio; dizia-me sempre:
— Maria José, tu eras tão feliz… Para quê estragar tudo agora?
Eu tentava explicar-lhe que não era feliz há muito tempo, mas ela não compreendia.
A Inês também teve dificuldade em aceitar que eu quisesse viver para mim própria.
— Mãe… não tens medo de ficar sozinha? — perguntou-me uma noite ao telefone.
— Tenho — respondi-lhe com honestidade. — Mas tenho mais medo ainda de nunca saber quem sou realmente.
Hoje olho para trás e vejo tudo como se fosse um filme antigo: os jantares em família, as férias no Algarve, as discussões por coisas pequenas… E percebo que vivi demasiado tempo para os outros.
Agora estou a aprender a viver para mim mesma. Ainda tropeço muitas vezes; ainda sinto falta do António às vezes — ou melhor, sinto falta da ideia de ter alguém ao meu lado.
Mas também sinto uma liberdade nova, assustadora e excitante ao mesmo tempo.
Às vezes pergunto-me: será possível reinventarmo-nos aos 58 anos? Ou será isto apenas uma ilusão passageira?
E vocês? Já sentiram esse vazio depois de uma grande mudança? Como encontraram o vosso caminho?