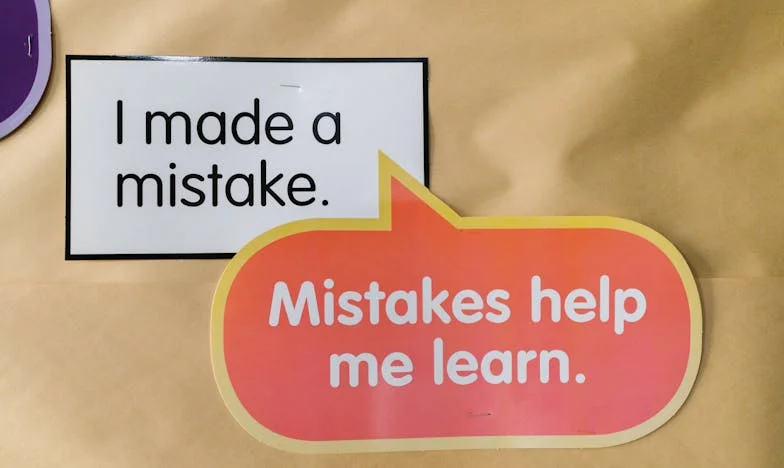Sábado no supermercado: quando um instante muda tudo
— Dona Amélia, a senhora está a tentar sair sem pagar este queijo? — A voz da rapariga da caixa cortou o ar como uma navalha. Fiquei parada, com o saco de compras na mão, sentindo o rosto a arder. O supermercado estava cheio naquela manhã de sábado, e de repente todos os olhos estavam em mim.
— Não, menina, deve haver algum engano… — tentei responder, mas a minha voz saiu trémula, quase inaudível. O senhor da fila atrás de mim, um homem corpulento com ar apressado, bufou alto.
— Isto agora é todos os dias! — murmurou ele, olhando-me de cima a baixo.
Senti as pernas fraquejarem. O queijo estava no fundo do carrinho, esquecido entre as batatas e o pão. Eu não o tinha passado na caixa? Tentei recordar-me, mas a confusão e o cansaço da semana toldavam-me a memória. Desde que o António morreu, há três anos, tudo me custa mais. As compras, a solidão, até lembrar-me das pequenas coisas.
— Chame o gerente — disse a rapariga da caixa, já num tom mais alto. — E alguém que traga segurança.
O gerente apareceu pouco depois, um rapaz novo chamado Tiago, que mal me conhecia. Olhou para mim com desconfiança.
— Dona Amélia, isto é muito grave. Tem consciência do que está a fazer?
Senti uma lágrima a escorregar-me pela face. Tentei explicar que devia ter-me esquecido do queijo no fundo do carrinho, que não era minha intenção levar nada sem pagar. Mas ninguém parecia ouvir-me. O segurança aproximou-se, pedindo-me para abrir o saco.
— Por favor… — sussurrei. — Eu pago já o queijo. Foi só um engano.
Mas já era tarde demais. Alguém tinha chamado a polícia. Dois agentes da PSP entraram no supermercado, atraindo ainda mais olhares. Uma senhora idosa a roubar queijo — era assim que todos me viam agora.
Enquanto esperava ao lado da caixa, sentada numa cadeira de plástico que me deram, ouvi os cochichos à minha volta:
— Coitada…
— Ou então é esperta! Eles sabem bem o que fazem…
— Isto agora é moda entre os velhos, fingem-se esquecidos…
O meu coração batia descompassado. Lembrei-me dos meus netos, do meu filho Rui que quase nunca me visita porque está sempre ocupado com o trabalho em Lisboa. O que diriam se soubessem disto? Senti vergonha, raiva e uma tristeza profunda.
Os polícias foram cordiais mas firmes.
— Dona Amélia, precisamos dos seus documentos e de ouvir a sua versão dos factos.
Contei tudo: como costumo vir ali todos os sábados, como conheço metade das pessoas daquele bairro desde que era menina. Como nunca roubei nada na vida. Mas as palavras pareciam perder-se no ar pesado do supermercado.
O gerente insistia:
— Temos de seguir o procedimento. Isto vai ficar registado.
Assinei um papel sem perceber bem o que era. As mãos tremiam-me tanto que mal conseguia segurar na caneta. Quando finalmente me deixaram ir embora — depois de pagar o queijo e tudo o resto — senti-me esvaziada por dentro.
Ao sair do supermercado, cruzei-me com a vizinha D. Rosa.
— Amélia! Que se passou? Vi os polícias lá dentro…
Baixei os olhos.
— Nada, Rosa… Um mal-entendido.
Mas ela já sabia. Toda a gente ia saber. No bairro de Campo de Ourique as notícias correm depressa.
Cheguei a casa e sentei-me à mesa da cozinha, olhando para as mãos enrugadas que tanto trabalharam ao longo da vida: costureira desde os 14 anos, mãe solteira durante anos até conhecer o António, avó dedicada. E agora isto: reduzida a um boato vergonhoso por causa de um pedaço de queijo esquecido.
O telefone tocou. Era o Rui.
— Mãe? A D. Rosa ligou-me… O que aconteceu?
Expliquei-lhe tudo entre soluços. Ele ficou em silêncio durante uns segundos longos demais.
— Mãe… tens de ter mais cuidado. Sabes como as pessoas são…
Aquelas palavras magoaram-me mais do que qualquer acusação no supermercado. Não era apoio o que eu precisava? Não era compreensão?
— Rui, eu não sou ladra! — gritei-lhe ao telefone antes de desligar.
Passei o resto do dia fechada em casa. Não consegui comer nem dormir direito naquela noite. No domingo de manhã ouvi vozes na rua:
— Dizem que foi apanhada a roubar…
— Quem diria! Sempre tão direita…
Senti-me esmagada pelo peso do julgamento alheio. Pensei em não voltar mais ao supermercado. Pensei em mudar de bairro. Mas depois lembrei-me da minha infância ali mesmo, das tardes passadas a brincar na rua com as outras crianças, dos verões em que vendíamos limonada à porta das casas para comprar gelados na mercearia do Sr. Manuel.
Na segunda-feira fui à Junta de Freguesia pedir ajuda jurídica. A funcionária olhou para mim com pena.
— Isto acontece mais vezes do que pensa… Os idosos são sempre os primeiros a ser suspeitos quando há confusão nas lojas.
Saí dali com um folheto sobre direitos dos consumidores e uma sensação amarga de impotência. Ninguém queria saber da verdade; só interessava o boato fácil.
Durante semanas evitei sair à rua. O meu neto mais velho veio visitar-me um domingo à tarde e perguntou:
— Avó, é verdade que foste presa?
Apertei-o nos braços e chorei baixinho.
— Não, meu amor… A avó só se esqueceu de passar um queijo na caixa.
Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e inocentes.
— Então porque é que toda a gente fala disso?
Como explicar-lhe o peso dos preconceitos? Como explicar-lhe que basta um erro para sermos julgados por toda uma vida?
O tempo foi passando e aos poucos voltei à rotina: as compras no supermercado (noutro bairro), as idas ao café com as amigas (as poucas que restam), as tardes solitárias em casa a ver novelas ou a fazer tricô para os netos.
Mas nunca mais fui a mesma. Sinto-me observada em todo o lado; sinto que perdi algo essencial: a confiança nos outros e em mim própria.
Às vezes pergunto-me: quantos mais como eu vivem com medo de um simples engano? Quantos já foram condenados sem direito a defesa? Será que algum dia vamos aprender a ouvir antes de julgar?