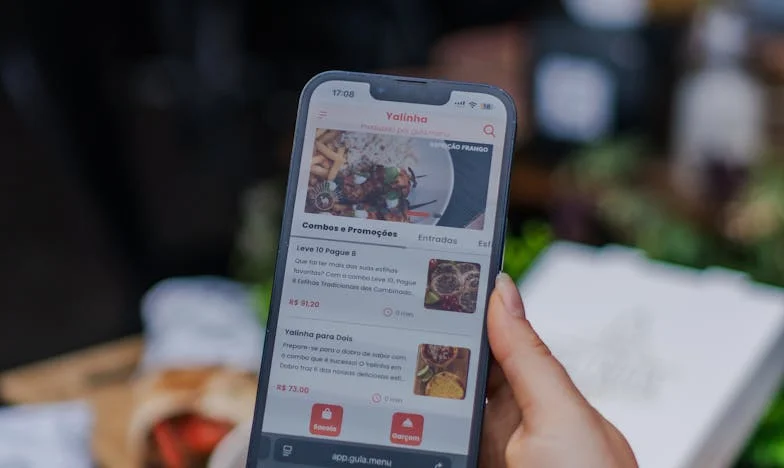Quando o Frigorífico se Tornou Fronteira: Crónica de uma Ruptura à Portuguesa
— Outra vez compraste iogurtes de morango? Sabes perfeitamente que eu não gosto! — atirei, a voz mais aguda do que queria.
Miguel pousou o saco das compras no chão, suspirando fundo, como quem carrega o peso do mundo nas costas. — Não havia de pêssego, Ana. E tu nunca te lembras que eu detesto queijo fresco, mas compras sempre, não é?
O silêncio que se seguiu foi mais frio do que o próprio frigorífico. Senti o peito apertar, uma raiva surda misturada com tristeza. Como é que chegámos aqui? Antes, discutíamos sobre que série ver à noite, agora era sobre iogurtes e queijos. O frigorífico, outrora símbolo de partilha, de refeições improvisadas a dois, de risos à meia-noite, tornara-se o campo de batalha da nossa rotina.
Naquela noite, depois de arrumar as compras, reparei que Miguel tinha começado a separar as coisas dele das minhas. O leite dele à esquerda, o meu à direita. Os iogurtes dele em baixo, os meus em cima. Até as sobras do jantar estavam em caixas diferentes, com etiquetas: “Miguel” e “Ana”. Senti um nó na garganta. Não disse nada. Fui para o quarto, fechei a porta e chorei baixinho, para não me ouvir.
Os dias seguintes foram uma dança silenciosa. Evitávamos cruzar-nos na cozinha. Se eu estava a preparar o pequeno-almoço, ele esperava no corredor, fingindo procurar as chaves. Se ele estava a jantar, eu dizia que não tinha fome. O frigorífico era agora a nossa fronteira invisível, cada prateleira um território conquistado à custa de mágoas e silêncios.
A minha mãe ligava todos os domingos. — Então, filha, como está o Miguel? — perguntava, sempre com aquela esperança ingénua de quem acredita que o amor supera tudo.
— Está tudo bem, mãe. — mentia, porque não sabia como explicar que o amor não morre de repente, mas vai-se apagando, como uma vela esquecida ao vento.
No trabalho, fingia normalidade. Os colegas falavam dos filhos, das férias, das pequenas alegrias do dia-a-dia. Eu sorria, mas sentia-me uma impostora. Ninguém sabia que, em casa, o silêncio era tão denso que quase se podia cortar à faca.
Uma noite, ouvi Miguel ao telefone com a mãe dele. — Não, mãe, não está tudo bem. — a voz dele tremia. — Eu e a Ana… já nem falamos. Parece que vivemos em países diferentes.
Senti-me invadida, mas também aliviada. Afinal, não era só eu que sentia o abismo a crescer entre nós. Mas, em vez de falar com ele, fechei-me ainda mais. O orgulho, esse velho inimigo, não me deixava dar o braço a torcer.
As discussões tornaram-se mais frequentes. Pequenas coisas — a loiça por lavar, a roupa esquecida na máquina, o lixo por levar — eram agora motivos para acusações e gritos. Uma noite, depois de uma discussão particularmente feia, Miguel atirou:
— Se é para ser assim, mais vale cada um tratar da sua vida!
Fiquei a olhar para ele, sem saber o que responder. A verdade é que já estávamos a tratar da nossa vida, cada um à sua maneira, há muito tempo. Só não tínhamos coragem de admitir.
O dinheiro era outro fantasma a pairar sobre nós. Desde que Miguel ficou desempregado, as contas acumulavam-se. Eu trabalhava horas extra, mas o salário mal chegava para tudo. As compras passaram a ser uma fonte de stress. Cada euro contado, cada escolha questionada. — Precisamos mesmo disto? — perguntava ele, olhando para o pacote de bolachas. — Não podes levar as mais baratas? — respondia eu, irritada.
O frigorífico, cada vez mais vazio, era o espelho da nossa relação. Restos de comida, produtos fora de prazo, embalagens esquecidas no fundo. Às vezes, abria a porta só para sentir o frio na cara, como se pudesse congelar a dor que me consumia por dentro.
Uma tarde, cheguei a casa mais cedo. Ouvi Miguel a chorar na cozinha. Fiquei parada à porta, sem saber se devia entrar ou fugir. — Desculpa, Ana — murmurou ele, sem se aperceber da minha presença. — Eu não sei como chegámos aqui.
Sentei-me ao lado dele, em silêncio. Pela primeira vez em meses, olhámos um para o outro sem raiva, sem acusações. Só tristeza. — Achas que ainda vale a pena tentar? — perguntei, a voz quase um sussurro.
Miguel encolheu os ombros. — Não sei. Sinto-me tão cansado. Tudo o que faço parece errado.
Ficámos ali, lado a lado, a olhar para o frigorífico. Lembrei-me do dia em que o comprámos juntos, cheios de sonhos e planos. Agora, era só um objeto frio, dividido ao meio, como nós.
Os dias passaram. Tentámos conversar, mas as palavras eram poucas e pesadas. Fomos à terapia de casal, mas saímos de lá ainda mais distantes. Os amigos começaram a afastar-se, cansados das nossas queixas e do ambiente pesado.
No Natal, cada um passou com a sua família. A minha mãe percebeu logo. — O que se passa, filha? — perguntou, apertando-me a mão.
— Acho que acabou, mãe. Só ainda não tivemos coragem de admitir.
Ela chorou comigo. Disse que o amor é assim mesmo, feito de altos e baixos, mas eu sabia que, desta vez, não havia volta a dar.
Em janeiro, Miguel arrumou as coisas e foi para casa dos pais. Fiquei sozinha, a olhar para o frigorífico meio vazio. Durante dias, não consegui abrir a porta sem sentir um aperto no peito. Aos poucos, fui ocupando as prateleiras, misturando os meus alimentos, apagando as etiquetas. Mas o frio continuava lá, lembrando-me de tudo o que perdemos.
Hoje, meses depois, ainda me pergunto: em que momento é que deixámos de ser nós para sermos só eu e ele? Será que poderíamos ter feito diferente? Ou será que, às vezes, o amor não chega mesmo para vencer o peso dos dias?
E vocês, já sentiram o vosso lar transformar-se numa fronteira? O que fariam se o silêncio se instalasse entre vocês e quem mais amam?